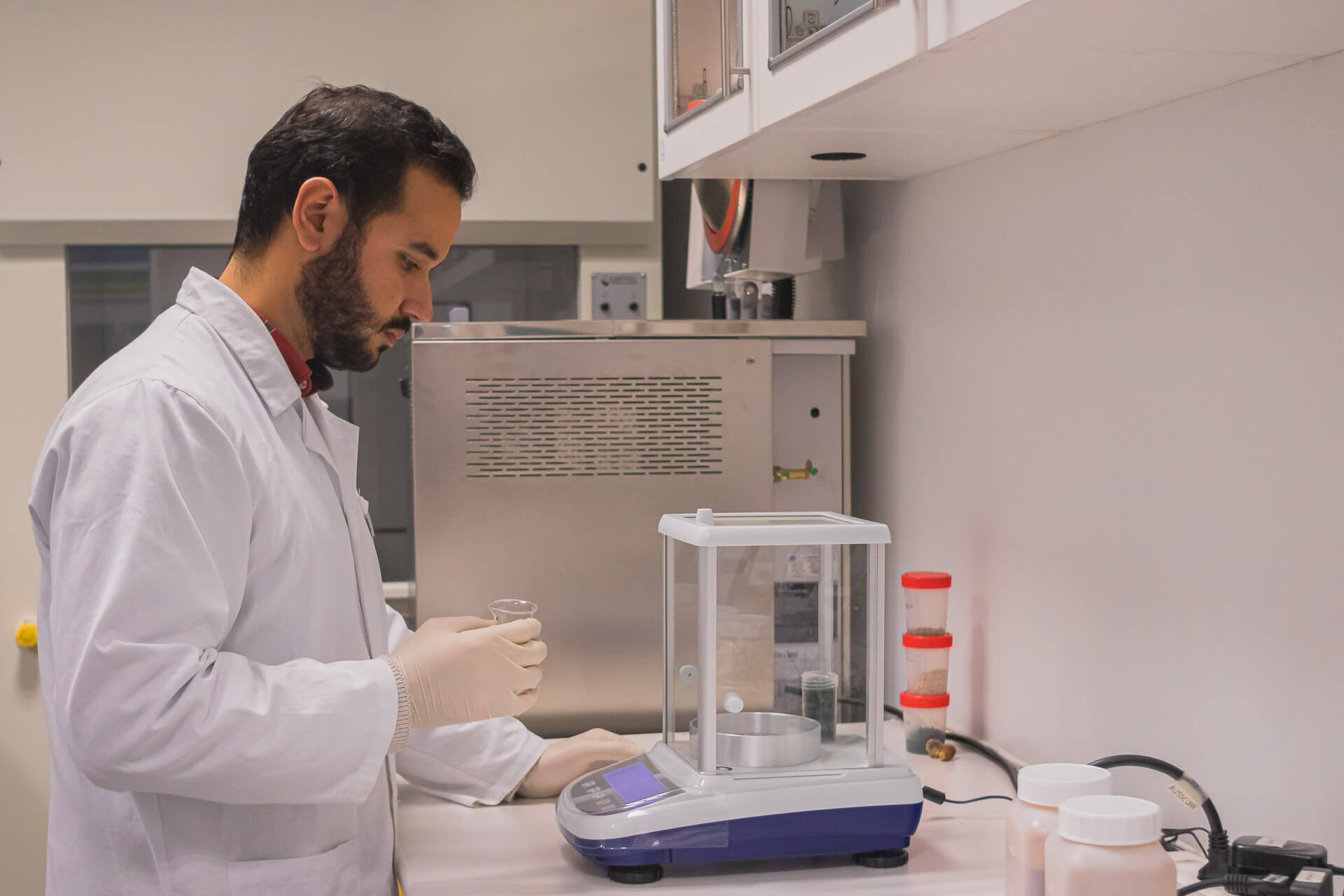Raphael Canadas: “Eu queria sair do ambiente académico e fazer algo que pudesse ter um impacto mais direto na sociedade.”
Raphael Canadas: “Eu queria sair do ambiente académico e fazer algo que pudesse ter um impacto mais direto na sociedade.”
Raphael Canadas nasceu em Paris, mas não tinha ainda dois anos quando veio para Portugal viver. Foi entre o Cartaxo e a Margem Sul que cresceu, estudou, jogou futebol e se iniciou no karaté, a modalidade que o acompanha até hoje. O mundo académico foi a sua praia durante muitos anos, mas percebeu que queria ter um impacto mais direto na sociedade e cofundou a Tech4Med, uma startup nascida em plena pandemia. Gosta da palavra saudade e, numa das suas muitas viagens pelo mundo, apaixonou-se pelas pessoas e pela cultura de São Tomé.
O que é a Tech4Med?
A Tech4Med é uma empresa dedicada à área da medicina e trabalha, essencialmente, na utilização de células recolhidas de pacientes para terapia celular. Recentemente, a empresa começou a desenvolver um ramo paralelo — que poderá dar num novo departamento ou numa spin-off, se for bem-sucedido — que consiste na utilização de biomateriais com princípios ativos, ou seja, biomateriais recolhidos na Natureza que contêm princípios ativos antimicrobianos. Temos desenvolvido este projeto por causa da conjuntura atual (pandemia COVID-19), inclusivamente, já recebemos financiamento e a solução está a crescer e, como tem um tempo de chegada ao mercado mais curta, acredito que possa ser uma spin-off da empresa brevemente.
Esse projeto paralelo que falas como é que funciona mesmo na prática? Qual é a solução que estão a desenvolver?
O conceito é extrair princípios ativos a partir de compostos da natureza com uma atuação que seja de amplo espetro, isto significa que têm atividade contra, por exemplo, SARS-COV-2, Influenza, bactérias gram positivas, gram negativas e fungos. Aliás, recentemente até validámos a solução para bactérias multirresistentes hospitalares. Na parte tecnológica, o que fazemos é integrar estes princípios ativos numa nanotecnologia que é responsiva a diferentes estímulos, como o pH ou até o toque humano.
Voltando um pouco atrás, fala-me do vosso core na Tech4Med. Pelo que percebi, vocês têm uma solução para terapia celular, certo?
Ao contrário de algumas soluções que já existem no mercado — que retiram células do doente, as tratam e expandem antes de voltar a introduzir na pessoa numa segunda visita hospitalar —, a Tech4Med pretende fazer tudo no espaço de minutos em bloco operatório. Saltamos o passo da proliferação celular e fazemos o enriquecimento dessas células em tempo real junto do cirurgião. Isto permite-nos trabalhar dentro de uma classe diferente de medical devices. Basicamente o que existe hoje nessas abordagens é um pouco feito “às cegas”, aleatório de médico para médico e o que nós pretendemos introduzir é um padrão que permita dosear o número de células e ajustar esse número antes da sua aplicação no paciente no espaço de minutos, como te disse.
No fundo, quando o paciente está no bloco operatório vocês fazem tudo isto.
Exatamente. E pode ser com células retiradas do sangue ou retiradas da gordura, por exemplo.
Eu queria sair do ambiente académico e fazer algo que pudesse ter um impacto mais direto na sociedade.
A Tech4Med tem dois cofundadores de backgrounds completamente diferentes (risos). Como é que decidiram juntar-se e começar um projeto como este?
Eu e o Fernando somos amigos de longa data (risos). O Fernando praticava karaté comigo e ele, depois do mestre, era o mais graduado e eu era a seguir a ele. Nós éramos parceiros de treino e o Fernando foi sempre conhecendo o meu trabalho. Eu sei que a experiência dele é na área da gestão financeira e ele também foi conhecendo a minha evolução quando vim para Guimarães fazer o doutoramento. Eu cheguei a uma altura em que queria sair do ambiente académico e fazer algo que eu sentisse que pudesse ter um impacto mais direto na sociedade. Eu queria ter um contributo mais real na sociedade. Então nalgumas conversas que íamos tendo, surgiu a ideia de montarmos uma empresa na área da biotecnologia precisamente com esse intuito.
Depois do doutoramento continuaste como investigador em Guimarães e só depois é que começou a formar-se a ideia da Tech4Med, certo?
Sim, sim.
E agora na Tech4Med trabalham três pessoas, não é?
Sim, sou eu, o Fernando e a Clara.
Apesar do percurso ainda curto, consegues identificar alguns momentos-chave da Tech4Med?
Olha, o primeiro é a instalação laboratorial na UPTEC, sem dúvida. Ganhámos um financiamento para poder montar o laboratório, que nos deu autonomia para trabalhar e “pôr aos mãos na massa”. O segundo momento coincide com o primeiro (risos), porque é a captação do primeiro financiamento de grande volume. E diria que o terceiro momento é a contratação da Clara, que se juntou à equipa e trouxe uma robustez na preparação e gestão de projetos. Já trazia muita experiência e é uma pessoa de grande credibilidade para a nossa equipa, por isso acho que é um marco também.
Pelo contrário, já tiveram momentos menos positivos para a empresa?
Apesar de termos criado a Tech4Med em plena época pandémica e não conhecermos mais nenhuma realidade além desta (risos), a verdade é que há uma grande oscilação que se vai sentindo — ora apertam as medidas, ora são aliviadas. Eu diria que esta irregularidade é o que cria mais entropia. Tirando isso e até à data, temos estado sempre a crescer e até com alguns reconhecimentos externos, quer de financiamentos, quer de prémios. Acho que tenho mesmo muito poucas coisas negativas para apontar (risos).
Quem são os clientes da Tech4Med? Onde é que vocês querem que esta solução chegue?
Relativamente àquele projeto paralelo que falei inicialmente, temos estado em contacto com a indústria têxtil — uma das indústrias mais resilientes em Portugal — e que se tem mostrado muito interessada em substituir aquilo que eles hoje utilizam como biocidas, porque são tóxicos para o ambiente.
E com a vossa terapia celular? Quem é que pretendem alcançar?
Na parte da medicina, os nossos clientes, na verdade, são nossos parceiros (risos). No fundo, são os hospitais. Nós temos contactos direto com os médicos desde o princípio e temos estabelecido contactos com hospitais nacionais e internacionais importantes, quer da rede pública quer privados. Estamos, por exemplo, a conversar com hospitais em Espanha e na Alemanha. Esses são os potenciais clientes desta tecnologia.
Daqui a uns cinco ou dez anos, o que é que esperas já ter conseguido?
Espero que este sistema tenha sido validado em cenário real — ensaios clínicos — e esteja a ajudar as pessoas com melhores soluções de terapia celular.
Apesar de me teres dito que praticamente só tiveste momentos de crescimento até agora, há alguma coisa que gostavas de alterar no percurso da empresa?
Eu sou muito otimista (risos). Como um bom otimista eu não olho para trás (risos). Vejo os resultados do que fizemos e tento delinear estratégias para melhorar no futuro, claro, mas eu estou sempre a olhar para a frente (risos).
Qual é, para ti, o maior desafio num projeto como este?
É aquilo a que se chama o death valley. Numa empresa de biotecnologia que requer ensaios clínicos e tem inúmeras barreiras regulatórias para ultrapassar, esse vale da morte é muito longo. O maior desafio aqui nem sequer é a execução dos projetos, porque temos os hospitais alinhados connosco, assim como os acordos de colaboração bem estabelecidos. O desafio é mesmo na parte do investimento, porque estamos a falar de grande volume e de grande risco, já que o retorno não vai chegar daqui a dois ou três anos. Em Portugal, este conceito não está fortalecido o suficiente e nós temos que olhar muito para fora e procurar fontes de financiamento externos para conseguir catapultar aquilo que estamos a fazer.
Não há muitos investidores predispostos a esperarem muitos anos pelo retorno, não é?
Sem dúvida. Aliás, se alguns investidores na área da saúde lerem esta entrevista deixo aqui o desafio para se identificarem (risos).
O Out of Office foi até Freamunde — sensivelmente a meio caminho do percurso entre casa (Guimarães) e trabalho (Porto) do Raphael — acompanhar um treino de karaté. Conhecemos o Sensei e alguns colegas, enquanto o Raphael utilizava mais um treino para libertar o stress. É no karaté que tem o seu desporto, mas não deixa de acompanhar o desporto-rei português, onde foi, inclusivamente, capitão da equipa da sua terra. Já visitou mais de 20 países, considera-se uma pessoa resiliente e afirma que o momento mais marcante da sua vida — o seu casamento — ainda não chegou... mas está para breve.
O karaté não é um dos desportos mais praticados aqui em Portugal. Por que é que aos cinco anos começaste a praticar karaté?
O karaté surge porque o meu pai achou que seria interessante eu praticar um desporto diferente dos convencionais. Ele achava que os princípios que estão na base desta arte marcial eram interessantes para a minha personalidade e que podiam ajudar na minha educação. E assim foi! A verdade é que ajudou muito a moldar a minha personalidade.
Começaste aos cinco anos e a “ascensão” foi muito rápida, não foi?
Comecei com cinco anos e por volta dos 12 anos parei, por causa de alguns problemas de falta de tempo do meu mestre. Apesar da minha idade, no karaté existe uma hierarquia de graduações e como eu era o mais graduado do nosso dojo, passei a dar os treinos — e isso destruiu a minha motivação. Depois parei e tive uma grande dificuldade em retomar porque tinha de voltar à estaca zero e eu estava sem coragem para enfrentar essa realidade (risos).
No futebol é o salve-se quem puder e o karaté é completamente o oposto.
É nessa altura que surge o desporto-rei português (risos)?
Sim, comecei a jogar futebol por aí e tive um choque enorme. Os princípios das modalidades são completamente diferentes. No futebol é o salve-se quem puder e o karaté é completamente o oposto.
Tu vinhas de um desporto com uma ética e uma moral elevadíssima e passaste para o futebol onde as coisas, infelizmente, não são bem assim.
Precisamente. Passei para um desporto onde a falta de ética é uma arma para seres bem-sucedido (risos).
Os primeiros tempos devem ter sido bastante confusos para ti nessa dinâmica.
Sem dúvida. Sabes que nem era propriamente a falta de jeito, era mesmo a minha falta de saber estar que “me atrasava” (risos). Tecnicamente não era mau, mas aquela dinâmica era complicada para mim. Apesar de tudo, aquela realidade também foi importante para mim, ensinou-me muita coisa e confrontou-me com algumas situações.
Quais foram os clubes onde jogaste?
Dois clubes da terra: o Sport Lisboa e Cartaxo e o Estrela Ouriquense.
Tu gostas de futebol, mas o karaté é que impactou muito mais a tua vida.
Sim, sim. Acompanho muito e gosto, mas é de uma forma lúdica.
O regresso ao karaté dá-se bastante mais tarde na tua vida, não é?
Olha, na faculdade a vida foi mais estudar e borga (risos). Não houve tempo para muito desporto (risos). Quando entro na investigação mais a sério e venho para Guimarães fazer o doutoramento, decido ir para o ginásio e encontro um professor que era mestre de karaté na Universidade do Minho. Conversa puxa conversa e comecei a treinar com ele e, até hoje, nunca mais parei de treinar.
E também foi nesses treinos que conheceste o Fernando (risos).
Foi, foi. Foi um tempo no ginásio fundamental para toda a vida (risos).
Tu chegaste mesmo a participar em competições de karaté ou esse nunca foi muito o teu objetivo?
Participei em competições universitárias — nos Campeonatos Universitários Nacionais —, mas sempre procurei mais no karaté um escape para libertar o stress e pensar noutras coisas que não seja trabalho. Isso é muito mais importante para mim do que a competição.
Tens alguma referência no karaté?
Aquele que eu gostava mais de ver em competição era o Rafael Aghayev. Ele foi múltiplas vezes campeão do mundo e trouxe uma forma de combater muito diferente do tradicional, mais progressista e a integrar já influências de outras formas de combate.
E como é que funciona um combate de karaté? Como é que se ganha ou como é que se perde?
Olha, para perceberes mais facilmente: é muito idêntico ao judo. Tatami, um quadrado, delimitações para saberes até onde podes ir e se saíres é falta. Podes ganhar um, dois ou três pontos consoante o tipo de ataque — pode ser à cabeça ou peito e se é de pernas ou de braços. Perder tempo, ao contrário do futebol (risos), pode dar, no limite, a expulsão do combate. Há faltas por falta de combatividade, por “força excessiva”, ou seja, um ataque para ser pontuado tem de ser tecnicamente perfeito, porque não é para agredir — um ataque que seja demasiado violento é penalizado. Ah, ataques em zonas abaixo do cinto também são penalizados. No final, quem tiver mais pontos ganha. Em caso de igualdade, pode haver tempo extra ou pode haver uma decisão por parte do júri.
Mas há outro tipo de competição no karaté que não é combate, não é?
Sim, é uma competição por performance de kata. É uma outra tipologia. A kata é uma sequência de movimentos pré-estabelecida que pode ser de três estilos: shotokan, goju-ryu ou shito-ryu. Os três podem competir entre eles e quem está a avaliar tem de conhecer os três. Na kata, além da técnica, é importante a intenção e a entrega no que fazes.
E todos fazem esses movimentos pré-definidos?
Sim, é uma “coreografia” que já está estabelecida. É como se fosse um concurso de break dance, mas sem a música e sem improvisar (risos). É um conjunto de movimentos de ataque e defesa com uma coreografia imaginária sobre uma possível situação.
Além do karaté e do futebol, as viagens também fazem parte do teu ADN. Quais foram as melhores viagens que fizeste até hoje?
Foram quase todas para ilhas, diria. Hawai, São Miguel nos Açores e São Tomé e Príncipe. Escolho estes para Top 3 (risos).
E se te pedisse para escolheres só uma dessas?
Digo-te São Tomé. Para já, porque foi uma das primeiras viagens que fiz para fora da Europa e porque fiz com dois amigos num ambiente completamente diferente do normal. Éramos três rapazes e conseguimos entrar muito bem dentro daquela cultura. Ficámos em casa de umas pessoas amigas e isso permitiu-nos ver as coisas de outra forma. Fomos jantar aos restaurantes santomenses, fomos ao mercado santomense e tivemos algumas experiências muito… integrativas na sociedade (risos).
Então conta-me lá uma ou outra dessas experiências (risos).
Uma vez vínhamos de jipe e passámos por um santomense a andar e com a mota pela mão. Parámos e o homem deixou a mota na próxima casa e nós demos-lhe boleia para a cidade. Ele veio no carro connosco, falámos imenso e foi logo muito engraçado. Nessa altura, nós estávamos a tentar provar calulu — que é um prato típico — e perguntámos ao homem onde é que podíamos comer o melhor calulu. Ele indicou-nos o caminho e lá pedimos à senhora do restaurante para fazer, mas ainda tivemos de esperar três dias porque é preciso fumar o peixe nas ervas da ilha durante esse tempo (risos). A senhora disse-nos o preço e ficou por dois euros por pessoa a refeição. O marido ainda quis subir o preço, porque sabia que podíamos pagar mais, mas a senhora disse: “Nada disso. Aqui somos todos iguais” (risos). Passados três dias fomos lá comer e foi uma festa incrível. Acabámos aquela refeição numa mesa comprida cheia de santomenses connosco, todos a conversar e foi mesmo fantástico. As conversas deram para tudo. Literalmente tudo (risos).
Mas foi um país que te apaixonou mesmo, pelo que vejo.
Sim, sim. As pessoas, a cultura… Tudo.
E afinal quais são os países por onde já andaste?
Estive um ano nos Estados Unidos, e já visitei o México, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Bélgica, Suíça, Alemanha, Polónia, Holanda, Grécia, Dinamarca, Inglaterra, Turquia, Suécia, República Checa, Tailândia, Tunísia, Japão… Acho que é isso.
Qual vai ser a próxima viagem? Já está marcada?
Já sim e é a minha lua-de-mel. É uma roadtrip de caravana para fazer País Basco, sul de França e Itália, onde queremos passar mais tempo e conhecer de norte a sul.
Qual foi o momento mais importante da tua vida?
Acho que ainda está para chegar (risos). Talvez seja em maio, quando me casar (risos). Até à data, talvez te diga a entrada na faculdade e a minha mudança da academia para o mundo empresarial.
Qual é a qualidade em ti que mais destacas?
Resiliência.
Tens alguma palavra preferida?
Digo-te saudade.
Qual é a tua cidade preferida?
Tenho duas: Guimarães, onde vivo, e Paris, onde nasci.
O que é que queres mesmo fazer na tua vida?
Valem utopias? Visitar todos os países do mundo (risos).